
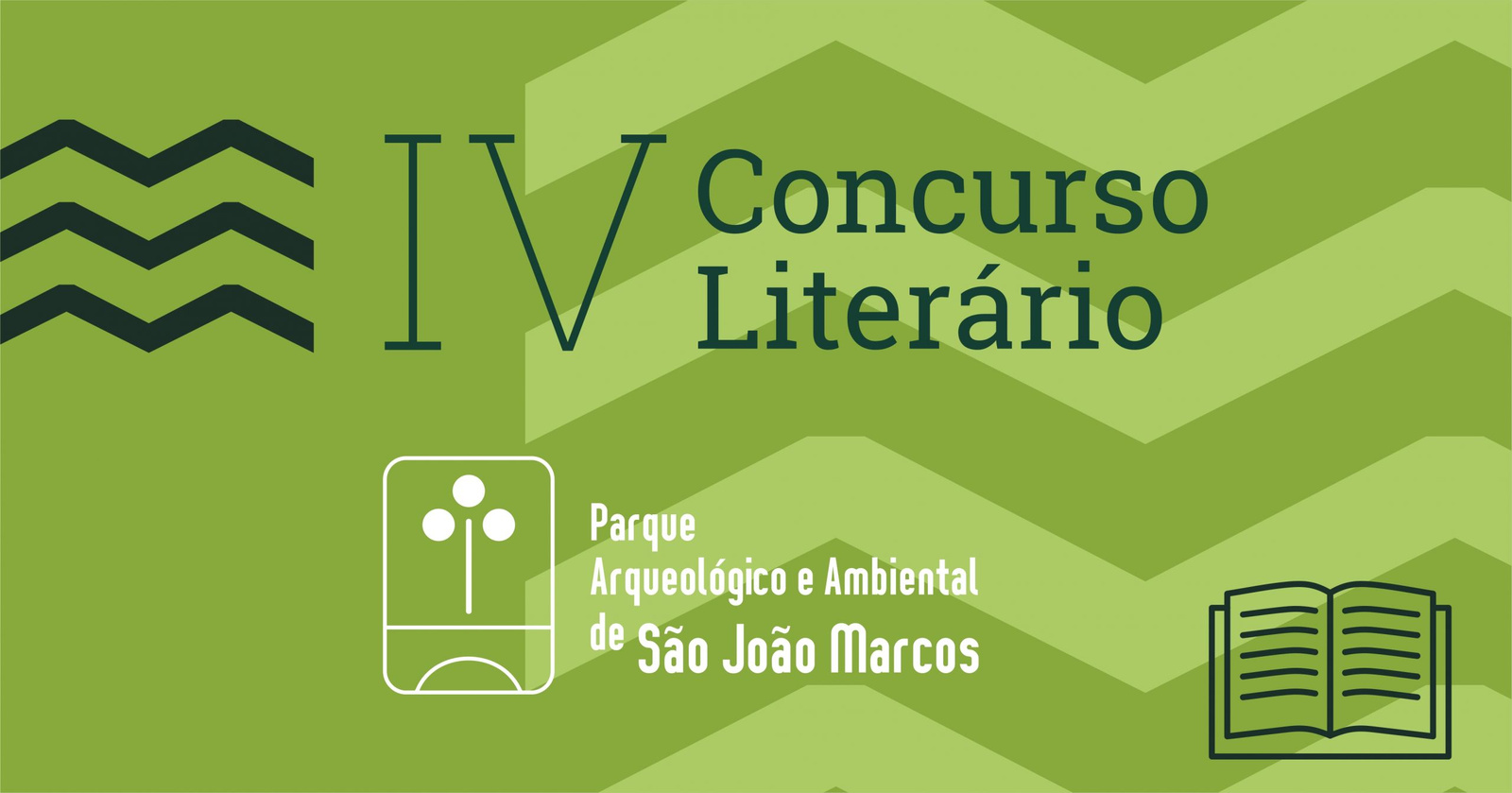
15 de junho de 2021
Resultado do IV Concurso Literário do Parque
1º lugar: A distopia é uma dádiva, por Kryssia Ettel
Lá na remota São João Marcos existe vida, sim!
E para que a vida faça sentido há também, na singela cidadezinha, localizada detrás dos portões de madeira, diversão e arte. Os que um dia foram denominados rio-clarenses, hoje são um harmonioso e seleto grupo de pessoas que conquistaram seu “novo” gentílico na garra: agora, chamam-se os são-joão-marquenses.
O ano é 2021 e lá residem 483 pessoas, boa parte delas nascida das mãos, e cuidada nos amparos da parteira e benzedeira Marta. As mais antigas, como era o costume, vieram ao mundo da forma mais óbvia, nos tempos atuais: nasceram no Hospital de Rio Claro.
O hábito fora drasticamente alterado depois que o vilarejo em conjunto decidiu por declarar sua autonomia, e lá vivem, de forma totalmente independente, desde 1940. É como uma ilha de terra, cercada igualmente de terra por todos os lados. O que lhes destaca, e lhes confere características singulares, é o fato de lá haver, como já foi bem-dito anteriormente, vida, para muito além de apenas existência.
Nessa célebre data, que alterou por definitivo os rumos dos pacatos moradores, Vargas veio em fúria e demoliu uma, duas casas, com sufoco, e, quando tentou ir para a terceira, o povo pôs em ação um plano que tinha arquitetado. Ninguém esperaria reação daquela gente pacífica, da terra, “simplória por natureza”.
Juntos, se uniram em uma ira tamanha, colocando as mãos em foices, machados, cordas, correntes, espingardas e até um antigo canhão da praça da Igreja Matriz: tudo fora juntado e utilizado com tanto suor, sangue e pulsão de vida que derrotaram, em questão de três dias, a tropa de soldados do Presidente, que ansiava por fazer dali terra arrasada para, em seguida, criar a tão almejada represa.
“Nossos antepassados não merecem morrer no lodo da profundeza de uma água parada”: esse era o sentimento geral daquelas pessoas quando o anúncio do alagamento fora oficialmente dado. Aos cochichos, nas missas, batizados, aniversários e enterros, tramaram com astúcia uma logística rebuscada, durante semanas, para pegarem os representantes do governo na surdina.
A estratégia era perigosa, porém todos decidiram por arriscar as próprias vidas na tentativa de salvarem seu maior e mais valioso (por que não dizer, talvez, único) bem: o pedaço de chão que lhes cabia e lhes dava sentido enquanto gente.
Os habitantes das cidades vizinhas temiam pela vida dos vizinhos, que à época eram não só seus amigos, mas muitos também seus parentes, amores e afetos. Pensavam: “são suicidas, essa gente! Vão morrer em um paredão de fuzilamento feito na própria Matriz! Que desgraça, estão brincando com fogo!”
Mas os ventos sopravam ares incrivelmente positivos no dia em que as tropas de Vargas chegaram. O tempo virou, encobriu a Serra de neblina grossa, fez invisível a Ponte Bela aos olhos dos soldados, e ainda derramou uma chuva tão grossa e trouxe um vento tão enfurecido que machucava os olhos de quem tentasse mantê-los abertos.
Essa incrível combinação climática deu vantagens infinitas aos habitantes do povoado que, nascidos ali, eram capazes de andar cada metro daquele chão apenas com o tatear dos pés, sabendo a posição de cada limoeiro, cada moita de canavial. Somou-se a isso a arrogância do governo central, que havia mandado míseros 22 soldados para o esvaziamento da cidade.
No primeiro dia derrubaram uma casa, que ficava afastada do centro de São João Marcos, mas já pertencia ao município. As condições climáticas já eram ruins, então o que era para ser feito em uma hora levou todo um dia. Os cavalos atolavam, as armas emperravam de água da chuva, e a viagem até o local já havia sido exaustiva. Deram-se por vitoriosos e armaram acampamento sobre os escombros da casa – um claro sinal de arrogância, para mostrarem a que vieram – para descansar. O que eles não sabiam é que os moradores da casa demolida haviam se rendido para encenarem bem o plano…
No segundo dia, às cinco da manhã quando o primeiro galo cantou, o povoado já estava armado até os dentes. Até as crianças lutaram: “ou é tudo ou nada”: esse era o sentimento geral – antes mortos que expulsos.
O terreno era lama e pedra revirada para todo lado. A neblina e o acúmulo de água deixavam os soldados nervosos de desorientação. Daí trombaram com mais um casebre, vazio, e o derrubaram, crentes dos “avanços” que estavam alçando.
Daí chegaram a uma casa nos limites da praça da Matriz, e ali, na neblina, frio e vento, foram recebidos por centenas de pessoas armadas do que podiam, lutando com toda a força que lhes restasse em vida, pelo seu tão adorado chão.
Os soldados da frente foram feridos e levantaram as mãos: morreriam, obviamente, se tentassem avançar mais meio metro que fosse, já que estavam cegos. Se atirassem, poderiam matar uns aos outros. Amarrados, foram deixados no centro de Rio Claro, de uniformes rasgados, e o semblante de miséria.
No dia seguinte, todas as manchetes de jornal da capital falavam sobre os “maltrapilhos que derrotaram homens armados munidos de ancinhos e facões de cortar cana”. Para não causar mais alarde, o Presidente do Brasil decidira, então, por abolir a criação da represa. Declarou, quase que por entre os dentes: “essa ideia de destombar a cidade são águas passadas. Não há mais interesses econômicos na região. Aquele fim de mundo não nos trará progresso”.
Foi desse modo que São João Marcos tornou-se autônoma, independente e livre de qualquer amarra vizinha. Nos são-joão-marquenses germinou, floresceu e frutificou um espírito de luta, de amor à terra e um senso de comunhão tão grande que os fez únicos em toda a região da Serra, quiçá de todo o Rio de Janeiro.
A “má propaganda” que Vargas fizera da cidade serviu para isolá-los. E, quem diria, eles adoraram tais “menosprezos”!
Essa gente – que não nasceu para ser São João Marcos “do Príncipe”, não se dobrou ao “progresso da represa de Ribeirão das Lajes” e muito menos se renderia a Vargas – ali segue em seu morno e alegre passo, com suas cantigas, missas e Folias de Reis, graciosamente à luz de velas e tochas de querosene – houve um acordo entre os moradores que sua marca de resistência seria um belo e estrondoso NÃO à Light -, vivendo um dia de cada vez.
Lá, nenhum habitante fora infectado pelo coronavírus, uma vez que reina o silêncio das autoridades sobre o local, desde os idos da humilhação das tropas de Vargas. O turismo é seletivo, e agendado na porta da cidade com a Dona Ângela, que se autointitulou “guarda oficial da guarita de entrada da cidade”, onde cada visitante deixa seu nome e endereço antes de prosseguir para a visita.
No dia em que souberam do vírus, logo após um batizado realizaram uma assembleia, e decidiram fechar as portas para o turismo até que o “mal da cidade grande” passasse por completo. E lá estão, na paz que Nossa Senhora da Conceição os mantém. Avante, são-joão-marquenses!
2º lugar: Interrompidos, por Jonatan Magella
1
“Eu não tenho culpa, foi o GPS que indicou essa estrada”, Martha finalmente gritou. O berro estava entalado em sua garganta fazia vinte anos, desde a separação.
“Não pode acreditar em tudo que um celular diz”, Ricardo respondeu em tom ameno. Embora tentasse reestabelecer um clima cordial, a verdade é que nenhum dos dois parecia à vontade naquela viagem juntos, após tanto tempo.
“Não pode, é? Então a gente desliga ele”, disse Martha, tirando a bateria do celular.
Ricardo se desesperou, erguendo os ombros: “Certo, mas e agora?”
“Agora a gente faz como fazia na época do namoro: pergunta no posto de gasolina”.
A pose durona de Martha foi se dissipando, ainda que ela não demonstrasse, porque na estrada da Serra do Piloto, que o GPS indicara em vez da Serra de Angra, não havia um posto sequer.
“Ou então volta e pega a serra de Angra”.
“Não. Agora vamos até o fim”, respondeu Ricardo. “Com posto ou sem posto”.
“Mas a gente não sabe onde vai passar”.
“Na vida a gente nunca sabe o que se passa”.
Após um silêncio sisudo, ambos se desarmaram e gargalharam juntos.
No fundo, “agora vamos até o fim” ou “a gente nunca sabe o que se passa” significavam uma volta ao passado para um acerto de contas.
Esse era o objetivo da viagem à Ilha Grande programada por aquele ex-casal de namorados que interrompera a vida juntos em 2001.
No princípio, foi difícil esquecer um do outro, porque sempre que alguém perguntava “onde você estava quando as Torres Gêmeas caíram?”, eles lembravam um do outro: estavam juntos naquele dia trágico e triste; e pior, naquela manhã, terminaram o namoro. Quando as Torres caíram, eles caíram também – e dali pra frente só restaram escombros e memoriais.
Naquela época, tinham vinte e poucos anos e muitos planos juntos. Viviam no sul do estado do Rio. Perto dos casais de amigos, pareciam adultos de meia idade, tamanha forma madura como se relacionavam. Também já tinham concluído a faculdade e eram independentes financeiramente. Adoravam ir ao cinema juntos, mas também não dispensavam as festas de carnaval, quando bebiam até vomitar. Sabiam separar a diversão das responsabilidades, e levavam uma vida interessante e cheia de potencial. Mas foram interrompidos.
O avô de Martha deu a ordem:
“Esse namoro de vocês acabou”.
Mesmo beirando os 80, era um sujeito forte e lúcido. Um velho conservador, que falava pouco de si, menos ainda de seu passado, completamente desconhecido da família. Mas sua ordem tinha que ser cumprida. “Eu não quero terminar com o Ricardo, vô”.
“Acabou o namoro. Agora vocês vão casar”.
Martha olhou estupefata para o avô. Ele deixou o rosto transparecer ressentimento:
“Acha que eu não sei que você virou moça?”
Martha tentou argumentar, mas gaguejou.
Sim, as coisas já tinham acontecido entre ela e Ricardo. Havia sido no carnaval, meio às pressas. Ela queria que se repetisse, pra aproveitar melhor. Ora, século vinte e um. Não que ela quisesse transar com todo mundo, mas se tinha encontrado alguém interessante e parceiro, por que não? Já tinha passado dos vinte anos e achava imbecil demais esperar o casamento para ter prazer.
“Porque o certo é o certo, e o errado é o errado”, o avô falou, como se lesse os pensamentos da neta.
Martha levantou a cabeça. Uma lágrima escorria dos seus olhos. Mas havia uma altivez na sua voz:
“E se eu não quiser casar tão jovem?”
O avô sorriu, controlador:
“Ou casa, ou vai morar com a sua mãe em São Paulo”.
E aí acaba a história do namoro juvenil entre Ricardo e Martha.
Ela sabia que um casamento, naquela altura da vida, por mais que Ricardo fosse incrível, daria errado. Houve tempo apenas para passar na casa dele, antes de ir pra rodoviária. Marta disse “acabou”, Ricardo respondeu “te amarei pra sempre” e as Torres Gêmeas caíram.
2
Não é que Afonso fosse um marcossense desinteressado por política. É que, aos dezesseis anos, ele andava encantado demais com Rosaura para pensar nos problemas da cidade. A situação calamitosa, que suscitava alerta geral, era exposta nos livros de Luís Ascendino Dantas, nos jornais da capital que chegavam e nas reuniões dos moradores mais aguerridos. Contudo a razão de Afonso andava suspensa: não acreditava no fim da cidade que os mais pessimistas pregavam, mesmo sabendo que já havia décadas que alguns habitantes se mudavam. Ora, quem quisesse se mudar que fosse, mas para Afonso quanto menos mudança melhor: afinal, após meses de trocas de olhares, ele finalmente teria um momento sozinho com Rosaura na festa do bicentenário da cidade. Estava apaixonado.
A prima que acompanharia Rosaura ao baile em algum momento iria se perder. Se os pais reclamassem, Rosaura poria a culpa no volume da música do maestro Joaquim Loyola, para salvar sua acompanhante. Mas os pais não reclamaram, e o beijo aconteceu sob a longa queima de fogos; depois os dois jovens correram atrás do carro alegórico, dançaram escondidos no clube e, quando o sol começou a nascer em São João Marcos, Afonso poderia ter dormido a eternidade inteira tamanha alegria que sentira: falaram em casamento.
Mas não dormiu. Acordou cedo e foi visitar Rosaura. Foi aí que Afonso percebeu: a vida não é uma noite de baile. O pai de Rosaura riu da proposta de casamento, chamou-o de moleque e disse que só casaria a filha quando tivesse um noivo com emprego e casa. Estranhamente, Afonso ficou ainda mais feliz, pois agora tinha uma razão para trabalhar e ter uma moradia apenas sua em São João Marcos. E estar com Rosaura todos os dias, ir à Matriz aos domingos, ao teatro, usufruir daquela cidade desenvolvida e fresca, passar as noites de bailes dançando com ela sem precisa se esconder.
Afonso não dormiu por um ano inteiro. Esteve fazendo bicos como agricultor e nos comércios da região por todo esse tempo. De sol a sol, Afonso trabalhava; paradoxalmente, quase não via Rosaura. Não via também o rebocador destruindo aos poucos a cidade inteira. Afonso, cego, furava protestos de moradores, não lia os cartazes dizendo “somos quatro mil e seiscentos brasileiros e não queremos desaparecer”, ignorava jornais que denunciavam as compras de fazendas em grande escala, os manifestos de Luis Ascendino Dantas – cada vez mais incisivos – a recusa de moradores em sair de casa. Foi um ano de cegueira de amor, até 1940, quando Afonso conseguiu dinheiro suficiente para pedir a mão de Rosaura. Quando foi à sua casa, encontrou-a chorando.
“A cidade vai acabar”, ela disse.
“Vai, mas vão reconstruir outra igualzinha a essa, eu ouvi no armazém”.
“Você acredita nisso?”
Afonso baixou a cabeça e pensou um pouco.
“Então vamos fugir, Rosaura.”
“Pra onde?”
Afonso abriu os braços e deu um giro.
“Olha o tamanho desse mundo. Eu consigo trabalho em Valença, em Rio Claro, em Barra Mansa.”
As mãos de ambos estavam suadas quando se tocaram.
“Arruma suas coisas. Eu passo aqui amanhã às cinco da manhã. Tenho dinheiro suficiente”.
Rosaura sorriu em sinal de confirmação. A vida inteira pela frente estava sendo construída por aquele gesto.
O plano era não dormir. Afonso resistiu por 365 dias – aguentaria mais um. Depois poderia passar a eternidade deitado ao lado de Rosaura e seus filhos, envelhecer com ela, morrer e ser enterrado lado a lado. Manteve-se desperto no avanço da madrugada. Mas às três e meia da manhã seus olhos se fecharam com força. O corpo superou o coração e ele dormiu um sono sem sonhos.
Despertou às seis, com barulhos de motores. Gemeu com insatisfação. Recolheu sua mala e foi correndo ao encontro de Rosaura. A cidade estava tomada por caminhões onde famílias embarcavam e partiam. “O que está acontecendo?” ele perguntava desesperado. Mas ninguém falava nada. Alguns choravam a dor da separação, outros sorriam como se finalmente pudessem fazer o luto pela morte da cidade para recomeçarem em outro lugar.
Quando chegou à casa da namorada, viu Rosaura com os olhos lacrimosos subindo no caminhão. Deu tempo de gritar o nome dela. Deu tempo de ela escutar e tentar fugir ao encontro do seu amor. Deu tempo do pai segurá-la pela manga do vestido, enquanto o motorista acelerava. Deu tempo de Afonso correr pela rua principal, até a ponte do lava-pés. As mãos se tocaram, os olhos choraram e o tempo acabou.
Quando voltou, a casa de Rosaura já era entulho.
Afonso nunca soube para onde foi aquele caminhão.
3
Ao longo da década de 2000, Martha e Ricardo tiveram a chance de conversar em plataformas de bate-papo – ICQ, MSN – tiveram a chance de participar de uma comunidade em comum no Orkut, deixar depoimentos secretos na conta alheia, escrever emails, twitts, enfim. Mas a vida não lhes parecia caber em alguns caracteres.
Foi após um divórcio quase simultâneo nos casamentos de ambos que finalmente tomaram coragem de se reencontrar no mundo digital. E agora, vinte anos depois, estavam juntos novamente em algum ponto da RJ-149, entre ciclistas, corredores e vacas.
“É difícil, né?”, ela disse.
“O quê?”
“Retomar de onde a gente parou”.
Ricardo pensou um pouco.
“É porque a gente não tá onde parou. Nós somos como uma cidade.” Martha sorriu, curiosa.
“Nós somos uma cidade, é?”
Ricardo segurou o volante com uma mão só e gesticula com a outra:
“É, nós somos uma cidade que tinha tudo pra ser de primeiro mundo e aí veio um infeliz pra destruir”.
Martha cruzou os braços, virando pra frente: “Não fala assim do meu avô”. “Vou falar o que? Que ele era um santo?”
Ricardo acreditava que a vida que tinha pela frente com Martha seria incrível, não fosse o autoritarismo de um velho conservador que se achava genial.
“Eu não quero falar mal dele, Martha. Mas ele transformou nossa relação, que era uma cidade, em ruínas. Erguemos sonhos, desejos, um monte de planos, e de repente ele chegou dizendo: vocês têm que sair.”
De repente, a estrada se tornou sinuosa. Os corredores e os ciclistas ficaram escassos e as curvas aumentaram.
“Para um pouco”, pediu Martha. “Acho que enjoei com a estrada”.
Ricardo reduziu a velocidade e pediu que ela segurasse um pouco até encontrarem uma área de refúgio. Quinhentos metros depois, parou num largo descampado à esquerda, com paralelepípedos.
Martha desceu do carro e vomitou. Enquanto ela estava virada para um muro, Ricardo observou a placa do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos ao lado do carro e uma estradinha convidativa. Martha limpou a boca, enquanto voltava. “Desculpa. Que vergonha”.
Ricardo sorriu, mexendo nos cabelos dela.
“Como se eu já não tivesse te visto vomitar em outros carnavais”.
Aquele gesto nojento era o que faltava para quebrarem o gelo inicial. Ali, com odor de vômito por perto, numa situação quase inadequada para dois adultos de quarenta e cinco anos, eram íntimos de novo.
Foi aí que Ricardo tocou na mão de Martha, num gesto de carinho, pela primeira em duas décadas.
“Eu não sei como vai ser, mas eu quero tirar esse mato da nossa cidade, Martha.
Eu quero reconstruir as ruínas, refazer o que a gente era”.
“Eu também”, respondeu Martha. “Só não me beija agora”, ela disse apontando pra própria boca.
Ricardo assentiu.
“Tem um parque aí. Quer ver se tem água lá dentro?”
“A ideia é boa, mas vamos ver no celular quanto tempo leva”.
Martha pôs a bateria no lugar e acessou o mapa.
“Má notícia, Ricardo: a Internet não pega aqui”.
Ele, com a delicadeza de um gesto simbólico, pegou o celular e tirou a bateria novamente.
“A gente nunca precisou de GPS.”
O casal entrou no acesso de terra batida, conduzido pelos canjicados que margeavam a estradinha; Martha, novamente apaixonada, ia em direção às ruínas do parque; e também, por que não, do casal que um dia fora com Ricardo; mas o que não sabia era que rumava às ruínas de seu avô, Afonso, que se tornou um homem amargo quando viu seus planos serem interrompidos, e nunca mais dançou, beijou e abraçou sua querida Rosaura, como gostava de fazer nos intermináveis bailes da velha São João Marcos.
3º lugar: Águas passadas, por Leandro Reboredo
Ele costumava acordar e andar pelos corredores do ancionato no meio da noite. Nem sempre seguindo essa ordem. Dependendo do dia, ressurgia de seu inconsciente apenas pela manhã, como se a caminhada não tivesse passado de um sonho. Um sonho repetido. E não importava os olhos fechados, as luzes completamente apagadas, o céu limpo de estrelas, nenhum lugar era mais escuro que dentro de Erasto. Em cada cômodo que passava do labirinto particular ia deixando poças onde os pés tocavam o frio granilite. As pequenas silhuetas d’água, espalhadas pelo chão que nem peças de um quebra-cabeça, com arestas demais para completar imagem, auxiliavam o enfermeiro de vigília no trabalho de resgate. Restava aos funcionários seguir a sua trilha, como no conto de fadas, noite após noite, já que não tinham autorização para preservá-lo amarrado ao leito e evitar seu passeio cego.
Meu avô sofre de Alzheimer. Tudo que se sabe sobre o passado dele são as histórias que ouvi quando era criança. É uma pena descobrir isso tão tarde. Teria prestado mais atenção nele e brincado menos com as coisas que me distraíam da sua presença, naquele tempo, ainda tão inteira. Antes da sua mente ser apagada. Hoje, ele já não se lembra que foi um escravo. Que suas mãos nunca sararam e, muitas das marcas que carregam, não nasceram com elas. Que Eulália, sua falecida esposa, deu a ele os melhores anos de sua vida. Que seu nome significa “homem da paz”. Que eu sou seu neto, tenho 26 anos, sou estudante de Letras e me chamo João Marcos em sua honra.
“Seu Erasto não lembra que faz aniversário hoje”, ouço de um enfermeiro.
Esqueço de respirar toda vez que penso no que ele perdeu.
Nos anos em que esteve residente dessa instalação, dei ao meu avô todos os passados que pude. Criava uma história mais incrível que a anterior. Ele já foi o primeiro presidente negro do Brasil que, ao sofrer um terrível golpe de Estado, foi deposto e trazido como preso político até esse hospital de onde jamais saíra. Também foi um astronauta que, viajando pelo espaço, fez contato com desconhecidas criaturas, sendo forçado a viver em quarentena até que fosse descoberto o seu planeta de origem. E teve a vez em que ele substituiu um cantor, morto em circunstâncias nunca esclarecidas, na banda mais famosa do mundo e agora está escondido para que ninguém descubra o seu segredo. Quando foi jogador de futebol, precisou buscar isolamento por muitos anos depois de sofrer um gol na final da Copa do Mundo e ser declarado o culpado pela dolorosa derrota em pleno Maracanã, diante de milhares de torcedores.
Porém, nenhuma das realidades que eu inventei teve sucesso em conquistá-lo. Não se envaidecia ou baixava o olhar após viver a sua vida de um dia, não obstante as glórias e derrotas nas quais o tivesse feito acreditar. Meu avô nunca lembrava delas na visita seguinte. Ou mesmo de mim. Para ele, não existia nada além do medo de água e do amor pela falecida esposa Eulália.
“Eulá…”
Muitas vezes, ao chamar o nome da minha avó, sua voz era interrompida. O corpo estremecia recuperando o fôlego suspenso. Eu esperava que, com os pulmões cheios novamente, ele apontasse na direção do que eu precisava olhar junto dele, mas os braços não tinham força igual a da minha torcida. Nesse momento, apenas os seus olhos ficavam firmes num horizonte distante no tempo, enquanto eu estava preso pelas paredes brancas do quarto.
Sentei-me à beira da cama, aguardando-o regressar. Atinei que algo permanecia paralisando meu avô. Ele fazia força nos ombros. O silêncio que o entalava a garganta fatiou a palavra e foi expulso do corpo conforme tosse, empurrando-a junto.
“Eu… lá…”
Não tenho certeza se ele continuou chamando ou se o que ouvi foi um pedido para encontrá-la naquela terra sagrada onde deixara a companheira ilhada, mas em segurança, cercada pelo rio Lete por todos os lados. Aquele cujas águas, quando são tocadas ou bebidas, causam o total esquecimento da vida.
Durante a infância, meus pais tiveram a difícil tarefa de tentar fazer com que eu entendesse a suposta homenagem ao meu avô. Eu só queria que meu nome dissesse o que todos já sabiam: era neto de Erasto, com “n” maiúsculo. Na primeira escolinha, arrancava a fita-crepe colada no peito do uniforme escrito pela professora com as letras mais redondas que já vi. Cresci e aprendi a rejeitá-lo nunca respondendo a chamada das aulas. Perto de ser reprovado por faltas e cansado de frequentar a diretoria, descobri a utilidade dos apelidos. Pensei ter enterrado o problema com meu nome por toda a adolescência desse jeito. O que nunca poderia imaginar é que, sem saber, ao tomarem juntos a decisão de me batizarem João Marcos, seus descendentes confiavam-me a maior e, talvez, a última conexão com a vida dele.
O jovem Erasto foi trazido para trabalhar no Brasil, provavelmente do sul de Moçambique, mas não pôde ser vendido porque desembarcou muito debilitado pela excruciante viagem. Sua história antes da chegada ao país é um mistério, pois esse fora o ponto de partida escolhido para todos os relatos que compartilhou com a família ou quem quer que o conhecesse. Apesar de ser prática proibida na época, o comércio de escravos acontecia livremente nos portos do país. Por ainda estar muito fraco, que o tornava mercadoria de pouco valor, escapou de ir direto para os grilhões. Enquanto recobrava as forças, mantiveram-no temporariamente empregado a serviço da comunidade. Era cuidado e também cuidava da Igreja Matriz, se atarefando de pequenas reformas, trabalho de carpintaria, retoques na pintura, bem como a limpeza da área e incumbia-se de que a vegetação estivesse sempre rasteira no entorno do templo. Quando as portas se fechavam, era possível ouvi-lo trabalhando noite adentro.
Com o passar do tempo, Erasto passou a fazer parte da rotina dos membros daquela congregação cristã e dos demais moradores de São João Marcos. Ele não mais precisava se esconder. Decidiu reconstruir ali, longe das correntes e lavouras cafeeiras, a vida que lhe foi roubada. Uma vez recuperado, continuou trabalhando como nunca. Passou a revezar-se entre o local de culto e as casas de família, a despeito do serviço exigido. Nos intervalos, recebia lições de leitura e escrita nos fundos da igreja de uma jovem aspirante a professora. Quando as coisas finalmente pareciam melhorar para o cativo, notícias vindas da capital federal apontaram o caminho contrário: uma crise no abastecimento hídrico no Rio de Janeiro forçaria o alagamento daquela região após obra necessária para a construção de uma barragem, autorizada pelo então presidente da República Getúlio Vargas.
Antes que os moradores pudessem assimilar o golpe e sob o protesto de muitos, indenizações começaram a ser distribuídas. Não havia escolha. Diante da população atônita as primeiras casas foram demolidas. E não poderia haver arrependimento também, por isso era tão importante que não tivessem para onde voltar. Erasto foi um dos encarregados de colocar as casas abaixo. O trabalho mais difícil que já fez, porque conhecia a dor de ser obrigado a deixar sua vida para trás. Ele passou a acordar no meio da noite, assustado, sonhando com uma grande onda que cobria São João Marcos. Mesmo tendo amanhecido o dia, ocasionalmente o vento soprava mais forte fazendo lembrar o som do movimento das águas e Erasto era incapaz de olhar para trás, tomado pelo medo de descobrir que o pesadelo talvez fosse real.
A cidade havia se tornado um cenário de despedidas. Estava quase totalmente vazia no momento em que se deu a sentença, a dura ordem final. Era chegada a hora de derrubar a Igreja Matriz. Erasto fora escalado, mas só descobriria ao chegar. Atravessou o longo caminho de pedras de cantaria e, diante das portas do templo, se deparou com inúmeras ferramentas perfiladas à sua escolha. Sob a fachada, vários políticos, autoridades policiais, operários e os últimos moradores, esses derramando lágrimas, esperavam em silêncio pelo início do trabalho. Ninguém teve coragem de derrubar as paredes da casa de Deus, nem mesmo os homens contratados para o feito. Não pelos mesmos motivos, mas Erasto se recusou a seguir a determinação. Ajoelhou-se diante da igreja, pegou uma das pesadas marretas e a arremessou tão alto que atingiu a copa de algumas árvores, desaparecendo no mato ao pousar. Ele sabia que depois daquele episódio, precisaria deixar a cidade antes mesmo do término das desocupações. Seria um alvo fácil para tanto ressentimento que pairava no ar. Além do mais, ele ainda era um escravo e sua única vontade deveria ser a de receber ordens. Sabendo disso, partiu no meio da noite acompanhado de sua jovem professora, Eulália. Não viram quando, por fim, a igreja foi dinamitada.
Essa é minha versão da história sobre como nasceu a nossa família. Meu avô ainda tem medo de água e a bacia sobre a cômoda ao lado da cama é parte do processo de mitridização do velho. Faço com que lave o rosto e as mãos a cada dez minutos. Mexo na água, às vezes, mantendo-a em movimento por um tempo para que o ruído vire quase um som ambiente. Gosto de acreditar que minha ajuda tenha lhe causado efeito positivo. Mas, independentemente do tratamento que eu criei para o problema dele, suas mãos estão sempre meio molhadas e ele as esfrega como se quisesse secá-las, o que só as deixa mais úmidas. Do mesmo jeito que os olhos grandes e protuberantes e os beijos sem dentes com os quais me recebe ao sermos reapresentados.
Depois de prepará-lo para o passeio, fiz sua bagagem. Não sabia muito bem o que levar. De uma viagem assim, se espera trazer algo e não o contrário. Naquele dia, não seria diferente. Tudo pronto, descansei a mala praticamente vazia no chão, ao lado do balcão da recepção.
Data: 18 de março de 2012.
Responsável: João Marcos da Silva Benevides.
Paciente: Erasto.
Idade: 94 anos.
Preenchi a ficha de autorização da saída dele com letra de diário e o mesmo capricho dos dias inesquecíveis. Deixara no carro o CD que ouviríamos no percurso da viagem. Com sorte, ele poderá se lembrar do quanto gostava. Quem sabe?
Clube da Esquina e uma hora depois, resolvi tentar que o silêncio inspirasse uma conversa. Porém, meu avô não faz mais perguntas e as respostas são tão curtas quanto a limitação de seus movimentos em transmiti-las. Ele interage com gestos, é o seu corpo quem fala. Qualquer conversa vira uma dança contida, lenta, no ritmo dele. As mãos espalmadas sobre o colo, cabeça firme sobre os ombros e eu não consigo imaginar o que pensava enquanto avançávamos na estrada.
Chegamos.
Atravessamos o pórtico do local e, por fim, entendi. Meu nome era o mapa.
“São João Marcos”, escapou-me.
Ele meneou-se preso ao cinto de segurança.
Os passos curtos foram imprescindíveis para que eu assimilasse. Hoje, o berço das histórias que povoaram a minha cabeça por anos se tornou um parque arqueológico. Ambos estivemos trabalhando com o fim de não deixar que essas ruínas fossem esquecidas, pensei. A vastidão tomada de verde, cercada por montanhas, me deixou paralisado. Não sabia onde pisar, por onde caminhar, em que lugar do passado adentraria no passo seguinte. Cavalos brancos vagueiam calmamente sobre o gramado tal e qual fantasmas. Durante a pausa, senti o braço de meu avô se desvencilhar dos meus. Segurei-o novamente e, dessa vez, ele é quem passou a me conduzir. Desviando de obstáculos invisíveis, ele foi me guiando pelos destroços da cidade onde parte da sua vida aconteceu. Onde se tornou homem livre, não apenas no papel. Onde se uniu à minha avó e nos originou.
Senti-me um menino de novo, mas era ele quem tinha crescido. Uns minutos de caminhada e sua vagarosa viagem ao passado atravessou a Praça do Cruzeiro e nos trouxe ao portal da Igreja da Matriz, que se recusou a cair. Respeitosamente baixei a cabeça ao cruzar as colunas de pedra, seguindo-o. Os pés largos de meu avô tocaram o piso restante mais de setenta anos depois. Olhei para a cena como se não o fizesse pela primeira vez. Suas mãos úmidas recolhiam o pó deixado por anos enquanto acariciava os vestígios do santuário.
Seguimos a trilha até o vestígio da construção mais próxima. Deparamo-nos com os escombros, que melhor lembravam uma habitação por aqui. Além da porta, umas janelas para contemplar a vista. Quis me aproximar. Ele ficou parado ao lado de uma pequenina árvore enquanto adentrava a Casa do Capitão Mor. Andei em círculos no interior da casa, igual a visita que procura pelo anfitrião nos menores detalhes dos cômodos por onde passa. Quando dei por mim, por sobre os muros caídos, notei que meu avô marchava em direção ao fim da senda, junto do Lago São João Marcos. Ele se abeirava do espelho d’água. “Bebem, junto à onda do letéio rio, as incúrias águas e o longo oblívio”, sonhei acordado. Preocupado, apressei-me ao perceber que banhava os pés. Foi então que ele voltou-se na minha direção e, com os olhos marejados, mergulhou de uma só vez. Corri até ele.
Corri.
Eu agarrei forte pela manga da camisa e o trouxe de volta. Sua expressão era diferente da que imaginei. Atirei-me de joelhos ao seu lado. Fiquei confuso. Foi tudo muito rápido. Com a mão sobre seu peito, senti sua respiração. Chamei por ele. Seu idioma particular não deu conta do que tinha para me dizer. A gesticulação ficou limitada para a conversa que nos esperava. Acomodei seu corpo encharcado contra o meu. Sua cabeça pendeu sobre meu braço delicadamente, reparei que seus lábios estremeciam.
“Eu vi.”
“O q-que você viu?”, perguntei aos tropeços.
E, com a voz límpida, pura como a de um recém-nascido, respondeu-me com os olhos serenos:
“Tudo.”
VEJA TAMBÉM
Endereço
Estrada RJ 149, Km 20
(Estrada Rio Claro - Mangaratiba)
Rio Claro - RJ
contato@saojoaomarcos.com.br
Funcionamento
Saiba mais em Visite
Visitas escolares
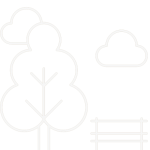
Design de Estúdio Tiê
Desenvolvido por Simetria Arte e Comunicação
POLÍTICA DE PRIVACIDADE



